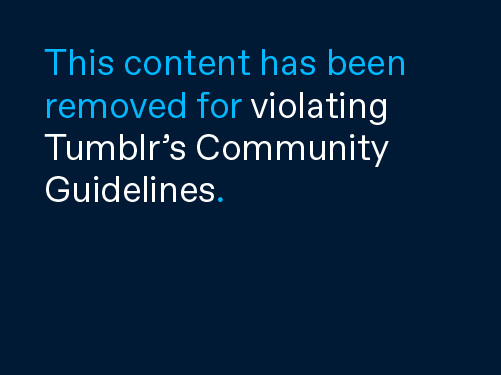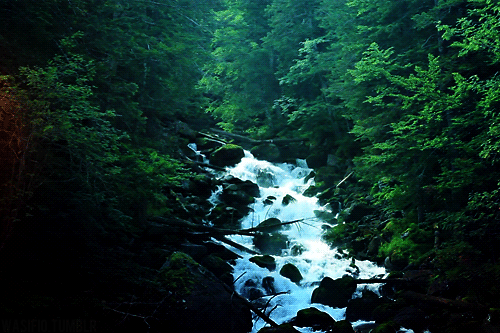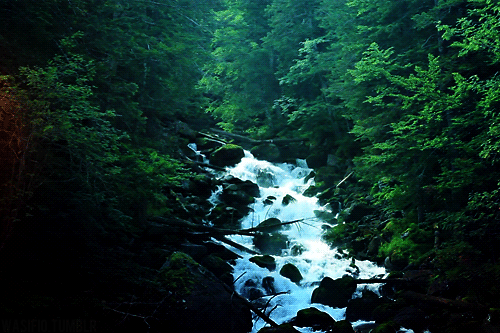
Há um rio separado da terra por uma pequena falésia. A humidade rega a paisagem, tornando-a fresca e densa. Aos olhos de quem observa de longe, este local resume-se a um banal ponto verde escuro. Junto ao percipício, há um moinho. O vento faz a élice desse moinho girar violentamente, descontroladamente. Uma brisa forte ecoa no ar, mas não há vivalma presente para a respirar.
Mas nem sempre foi assim.
Vivia naquela casa em cima do monte um homem feliz. Bem, ele era um homem feliz. Tinha esposa e quatro filhos pequenos. Viviam do pão que o moinho produzia. Costumavam comentar entre si que aquele lugar estava amaldiçoado. Quando havia farinha, não havia vento. Quando havia vento, não havia farinha.
Mas nas alturas em que isso não acontecia, viviam bem, aproveitando o pão e é claro, vendendo o que podessem para comprar outros produtos.
Na verdade, o senhor era um pouco egoísta. Apegado aos seus pertences. Não gostava de dar.
Um dia um viajante pediu-lhes auxílio durante uma noite, visto não ter onde dormir. Contou-lhes que viajava pelo país à procura do seu próprio rumo. Por alguma razão, o dono da casa não o deixou entrar. Sempre lhe chateara gente que não gostava de trabalhar.
Não se comoveu perante o aspeto miserável do visitante.
Nos dias seguintes, não houve farinha, mas muito vento, tanto que o telhado da casa ficou destruído.
A mulher concluiu com isto que o marido, devido á sua avareza, tinha sido castigado pela natureza.
Os dias assim continuaram, e a família vivia cada vez pior. Até que a mulher, não atendendo às súplicas do marido, saiu de casa para começar uma nova vida, levando consigo os filhos.
É impossível de descrever a angústia que enevoou a alma do abandonado a partir desse dia. O sopro do vento era tão forte que o arrancaria da terra, se o seu coração não estivesse tão pesado. Estava pesado, sim, como um grande pedregulho, e assim ficou.
Um dia, um pobre bateu á porta de sua casa. Relembrando o acontecido que lhe trouxera tantas desgraças, encheu o pedinte de atenções. A partir daí, todo o pouco rendimento que obtinha dava.
Viveu nessa extrema pobreza durante catorze anos. Todos os dias recebia pessoas em sua casa. A pouco e pouco, deixaram de ser pobres, e visitas de oportunistas passaram a ser frequentes. O homem sabia disso, mas lembrava-se da mulher e dos filhos, os seus olhos começavam a doer e ele abria a porta, incapaz de negar simpatia a quem fosse.
Um dia, ele sumiu. Adormeceu junto ao percipício do moinho e não mais acordou.
Hoje, estou aqui. Fui casada com aquele homem, em tempos. Fui a sua mulher. Estou a respirar o ar jovem e puro deste lugar que tão bem conheço. A relva está molhada, as élices do moinho giram. Ao longe as janelas da minha antiga casa estão abertas, as cortinas navegam na brisa. Sinto frio nos ouvidos. Aliás, sinto-me fria. Estou aqui, tal como o moinho, a relva e a àgua do rio. Oh, a minha vida mudou tanto. Uma mão quente toca-me no ombro. Sorrio.
Felizmente não estou sozinha.